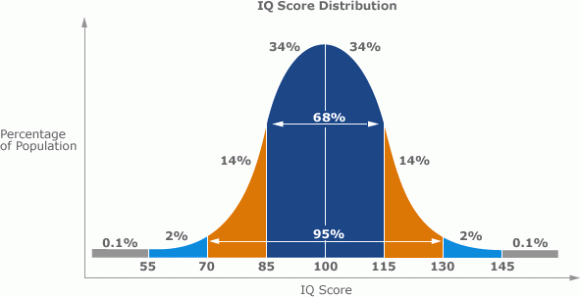Em primeiro lugar, é preciso perceber que quando falamos de diferenças de inteligência entre grupos étnicos referimo-nos, usualmente, a diferenças nos resultados de testes de QI. Os testes de QI são habitualmente utilizados pelos psicólogos para avaliarem aquilo a que chamamos de «inteligência» ou «capacidade mental». Os testes de QI estão longe de serem perfeitos, no entanto, eles são extremamente úteis, pois não só medem a inteligência, como nos permitem dizer muito acerca do sucesso de um indivíduo na vida real. O padrão normal de QI é 100, o que significa que a pontuação média que as pessoas obtêm, maioritariamente, nos testes de QI é de 100. Isso acontece, porque os resultados dos testes de QI têm a conhecida distribuição «normal». Numa distribuição normal, a maioria dos valores aglomeram-se em torno de uma média – poucos valores diferem significativamente dela. Ao aglomerarem-se criam uma espécie de curva em forma de sino, conhecida como IQ Bell Curve (Curvatura do sino).
A pontuação média normal de QI (68%) oscila entre: não muito inteligente (QI pelos 85 – «dull») até brilhante (QI cerca de 115 – «bright»). Um QI de 70 (14%) sugere-nos a existência de algum tipo de deficiência, enquanto que QI’s de 130 (2%) ou mais indicam indivíduos sobredotados. A média de QI nos Orientais é cerca de 106, nos Brancos por volta dos 100 e nos Negros flutua pelos 85. Este padrão é verificado por todo o mundo e ao longo de vários e diversificados estudos, sendo que os negros de África possuem, na generalidade, um QI mais baixo que os Negros que vivem na América ou na Europa.
No entanto, é necessária uma palavra de precaução quanto ao uso da sigla «QI», em detrimento do uso da palavra «inteligência»; ora, «QI» é a sigla de «quociente de inteligência», mas isso não quer dizer que «um teste de QI meça exactamente aquilo a que chamamos de ‘inteligência’ nos contextos comuns, embora exista, como é óbvio, uma correlação entre ambos» (Singer, P., 2002): geralmente, as pessoas consideradas «inteligentes» pelos restantes membros do seu meio sociocultural obtêm resultados mais altos nos testes de QI, enquanto que as menos «inteligentes» possuem resultados menos bons. Mas isto não mostra o grau de correlação existente e uma vez que o conceito de inteligência é extremamente vago, não existe forma correcta de o fazer.
Alguns psicólogos procuraram ultrapassar esta dificuldade definindo a inteligência apenas como ‘aquilo que é medido pelos testes de inteligência’: «Por inteligência entendo ‘competência cognitiva geral’ ou g, que refere a razoável sobreposição existente entre diversos processos cognitivos. Esta sobreposição é uma das mais consistentes descobertas da investigação das diferenças individuais entre as faculdades cognitivas humanas durante o ultimo século» (Plomin, R., 2000). Esta noção de um tipo único, genérico e mensurável de inteligência é geralmente referida como «g» e foi identificado por um oficial do exército inglês que se tornou psicológico, Charles Spearman, num famoso artigo de investigação datado de 1904. Spearman analisou os resultados escolares obtidos em diferentes disciplinas por um grupo de crianças e verificou que esses mesmos resultados tinham uma relação positiva, e que tal correlação se devia a uma capacidade intelectual geral – o factor g. Entretanto, decorreram décadas de argumentação entre os psicólogos, no sentido de apurar a existência ou não de uma tal entidade individual. Os seus apoiantes salientaram que o QI é útil para a previsão do sucesso escolar, porque: i) é relativamente consistente ao longo de toda a vida e; ii) de uma maneira geral, as pessoas que obtêm resultados elevados num teste de determinada competência cognitiva têm resultados igualmente elevados em testes de outras competências. Mas embora a declaração de Spearman tivesse adquirido grande aceitação, que perdura, em certa medida, até hoje, só por volta de 1940, é que ficou claro, que sempre que um grupo de pessoas era submetido a um conjunto de testes mentais, as correlações entre os resultados eram totalmente positivas e o factor geral na capacidade humana era, realmente, um factor significativo e incontornável: «o factor g é responsável por cerca de metade da variabilidade na capacidade intelectual da população em geral» (Plomin, R., 2000).
Portanto, quando os psicólogos usam a sigla «QI» não se estão a referir à noção de «inteligência» que usamos no quotidiano, nem a substituí-la por outra, mas a introduzir um novo conceito de «inteligência», que é muito mais fácil de medir, mas que pode ter um significado muito diferente. A distinção entre inteligência e QI levou algumas pessoas a desprezar os resultados dos testes de QI, por acharem que em nada se relacionavam com a aptidão cognitiva; outros demasiado confiantes nas potencialidades do QI acabaram por lhe atribuir primazia sobre quaisquer outras aptidões. Na verdade, QI não é o mesmo que inteligência, porém, existe uma conexão racionável que nos permite recolher resultados significativos – daí a sua importância. Assim, para não gerar confusões e uma vez que a palavra «inteligência» significa muitas coisas diferentes, falar-se-á somente em diferenças de QI, em detrimento de diferenças de inteligência, pois os dados de que dispomos não permitem sustentar mais do que isso.